- Opinião: Vigiar e punir, com transparência e responsabilidade
- Matemática aplicada ajuda produtor rural a aumentar receita em 12,5%
- Pesquisa detecta alta presença da bactéria patogênica em carne de frango e queijos no Brasil
- Espetáculo circense Abracadabra está com montagem a todo vapor em Ribeirão
- Apesar da matriz energética renovável, Brasil está atrasado nas políticas para descarbonizar indústria do aço
Opinião
Opinião: Cientistas estão se preocupando mais com um número do que com impacto de suas descobertas
Leia artigo do químico Brenno A. D. Neto, professor da UnB
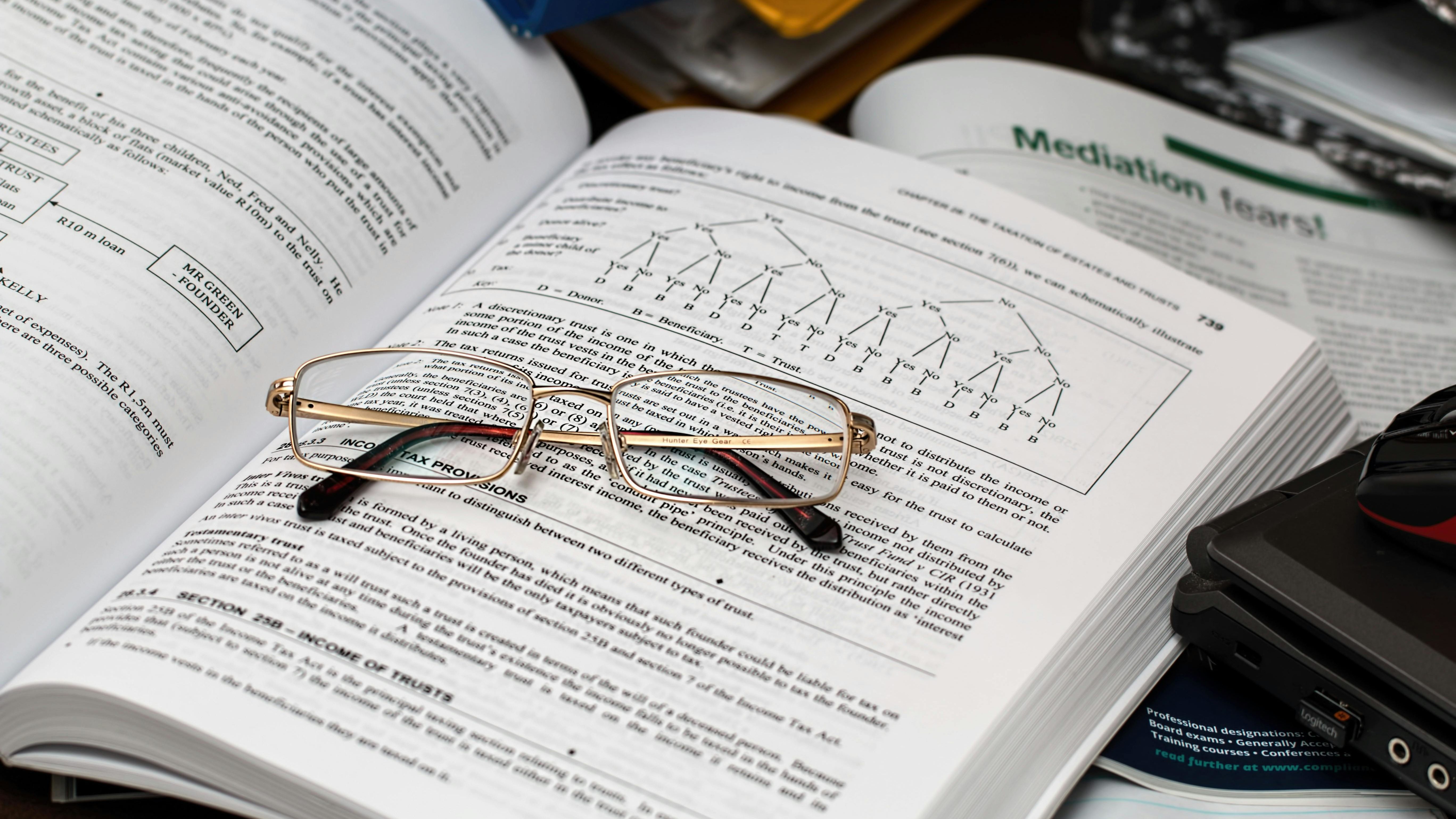
Fator de impacto, número originalmente utilizado por bibliotecas para selecionar que revistas adquirir, deturpa produção científica | Foto: Pixabay
Imagine se a qualidade de um cientista fosse medida não pelo impacto real de suas descobertas, mas por apenas um número atrelado às revistas nas quais ele publica artigos científicos. Parece absurdo? Pois essa é a realidade que vivemos e que há décadas tem se cristalizado no meio acadêmico.
O fator de impacto dos periódicos (journal impact factor, ou JIF) surgiu nos anos 1960 como um recurso para ajudar bibliotecas a selecionar quais revistas científicas deveriam ser assinadas. Até aí, tudo bem. Mas o que ninguém previu foi que esse índice, criado com um propósito meramente administrativo, se tornaria uma obsessão global, que quase sempre tem distorcido a própria ciência.
Atualmente, o JIF é tratado como sinônimo quase absoluto de qualidade científica. Universidades, órgãos de fomento e até mesmo os próprios pesquisadores utilizam esse número como critério de avaliação. Como consequência, cientistas enfrentam uma pressão, por vezes anormal, para publicar em revistas com um JIF elevado, o que leva a uma série de distorções no processo científico:
- Publicação por status: A busca por revistas com alto fator de impacto faz com que muitos pesquisadores priorizem onde publicar em vez de se preocuparem com o real alcance e relevância de seus trabalhos. O foco passa a ser menos a contribuição científica e mais a estratégia de publicação.
- Pesquisas “seguras”: Para garantir publicações em revistas de alto impacto, muitos pesquisadores evitam temas inovadores ou controversos, optando por abordagens previsíveis, que se encaixam nos padrões de aceitação das revistas mais prestigiadas. Isso sufoca a criatividade e a diversidade da pesquisa.
- Jogo de números: Algumas revistas adotam práticas para inflar seus índices, como publicar revisões extensas que acumulam muitas citações rapidamente ou estimular a autocitação em massa de artigos publicados na própria revista. Isso gera uma distorção, privilegiando estratégias quantitativas em vez da qualidade intrínseca da pesquisa.
Esses problemas são apenas alguns e se tornam ainda mais evidentes quando comparamos revistas de longa tradição com outras que surgiram recentemente. Como eu pude discutir recentemente em um editorial do periódico The Journal of the Brazilian Chemical Society (JBCS), por exemplo, os periódicos The Journal of Organic Chemistry e o Tetrahedron Letters são reconhecidos como referências na química orgânica há décadas. No entanto, seus JIFs atuais são inferiores aos de algumas revistas mais novas e menos relevantes. Ainda assim, qualquer químico orgânico sério sabe que JOC e TL são periódicos fundamentais para a área, e que um artigo publicado neles carrega um peso científico muito maior do que os números frios do fator de impacto poderiam indicar.
A cultura do JIF não apenas prejudica a ciência, mas também afeta a trajetória de muitos pesquisadores. Jovens cientistas, especialmente aqueles em início de carreira, sentem-se pressionados a publicar em revistas de alto impacto para garantir bolsas de pesquisa, promoções e reconhecimento acadêmico. Esse cenário leva a uma competição acirrada e, muitas vezes, desleal, em que a produtividade é medida mais pelo fator de impacto das revistas do que pelo real avanço gerado do conhecimento.
Além disso, essa obsessão reforça desigualdades. Pesquisadores de países (ou instituições) pobres, que muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar equipamentos, reagentes ou colaborações de ponta, encontram ainda mais barreiras para publicar em periódicos de alto JIF. Isso gera um ciclo vicioso.
Mudanças no horizonte
O problema não está apenas no JIF, mas no peso que damos a ele. Muitas instituições de ensino e pesquisa já perceberam que as métricas devem ser uma consequência do bom trabalho, não um objetivo a ser perseguido a qualquer custo. Grandes editoras e revistas têm adotado políticas mais éticas, como a recomendação da Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa (DORA), que propõe que cientistas sejam avaliados com base no mérito de seu trabalho, e não na revista onde publicaram.
Na prática, algumas mudanças estão acontecendo. Muitas revistas já removeram o fator de impacto de seus sites e materiais promocionais, focando na transparência do processo editorial e na qualidade da revisão por pares. Algumas universidades e agências de fomento também têm tentado reduzir a importância do JIF em suas avaliações. Mas ainda há um longo caminho a percorrer.
No JBCS, do qual sou o atual editor-chefe, acreditamos que o verdadeiro impacto de um artigo deve ser medido pela contribuição que ele traz ao conhecimento, e não por um número arbitrário. Nosso compromisso não é inflar métricas artificialmente, mas fortalecer a tradição, a seriedade e a qualidade da pesquisa que publicamos.
Se há algo que aprendemos ao longo dos anos é que cientistas sabem onde querem publicar – e essa escolha vai muito além de um número estampado em um site de métricas. Afinal, a ciência de verdade não se resume com apenas um numerozinho.
(*) Brenno A. D. Neto é químico pela UFRGS, onde também fez mestrado e doutorado. Desde 2009, é professor da UnB. É ainda editor associado da revista RSC Advances e editor-chefe do Journal of the Brazilian Chemical Society, e faz parte do conselho do periódico Chemical Society Reviews
COMENTÁRIOS
Mais Lidas no mês
Gente
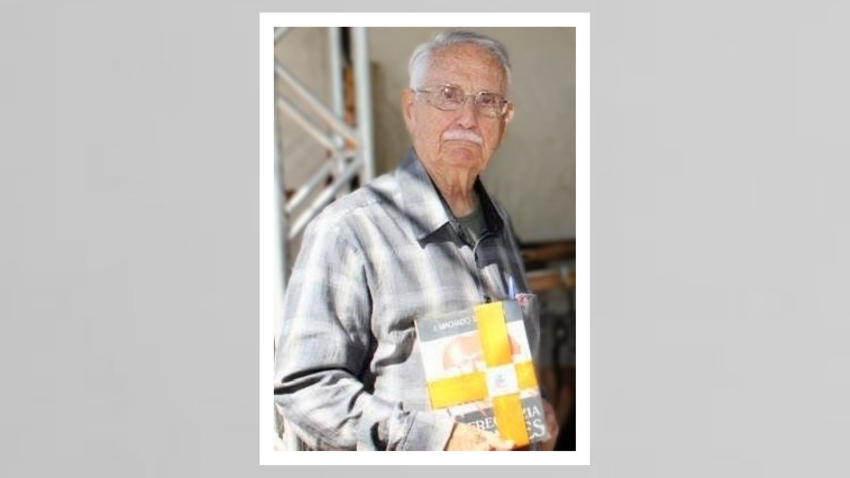
Professor Walter Cardoso morre aos 102 anos e deixa legado inestimável para a história de Batatais
Seu legado permanece vivo nas páginas que escreveu, nas histórias que contou, nas vidas que tocou e nos projetos que ajudou a construir
Batatais

Acidente de trabalho em Batatais deixa homem ferido
Um colaborador da empresa ficou ferido após a queda de uma peça de uma máquina de grande porte sobre ele
Batatais

Acidente neste domingo deixa ciclista morto na rodovia Altino Arantes
Vítima, que não tinha documentos, era um ciclista com idade aproximada de 40 anos
Cultura e Comportamento

Circo estreia em Ribeirão com Dedé Santana, Diego Hypólito e Tio Paulo
Premiado como ‘Melhor Circo do Brasil’, espetáculo começa na cidade no dia 16 de maio; Ingressos podem ser adquiridos on-line
Mais sobre Opinião
Opinião

Opinião: Tribunais de Contas e o julgamento de prefeitos
Leia novo artigo do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Dimas Ramalho
Opinião

Opinião - Sargaço no Brasil: invasão de algas no litoral assusta, gera prejuízo e desafia academia e governos
Sargaço é um tipo de macroalga parda, que ocorre naturalmente no “Mar dos Sargaços”, próximo do Golfo do México e da Flórida
Opinião
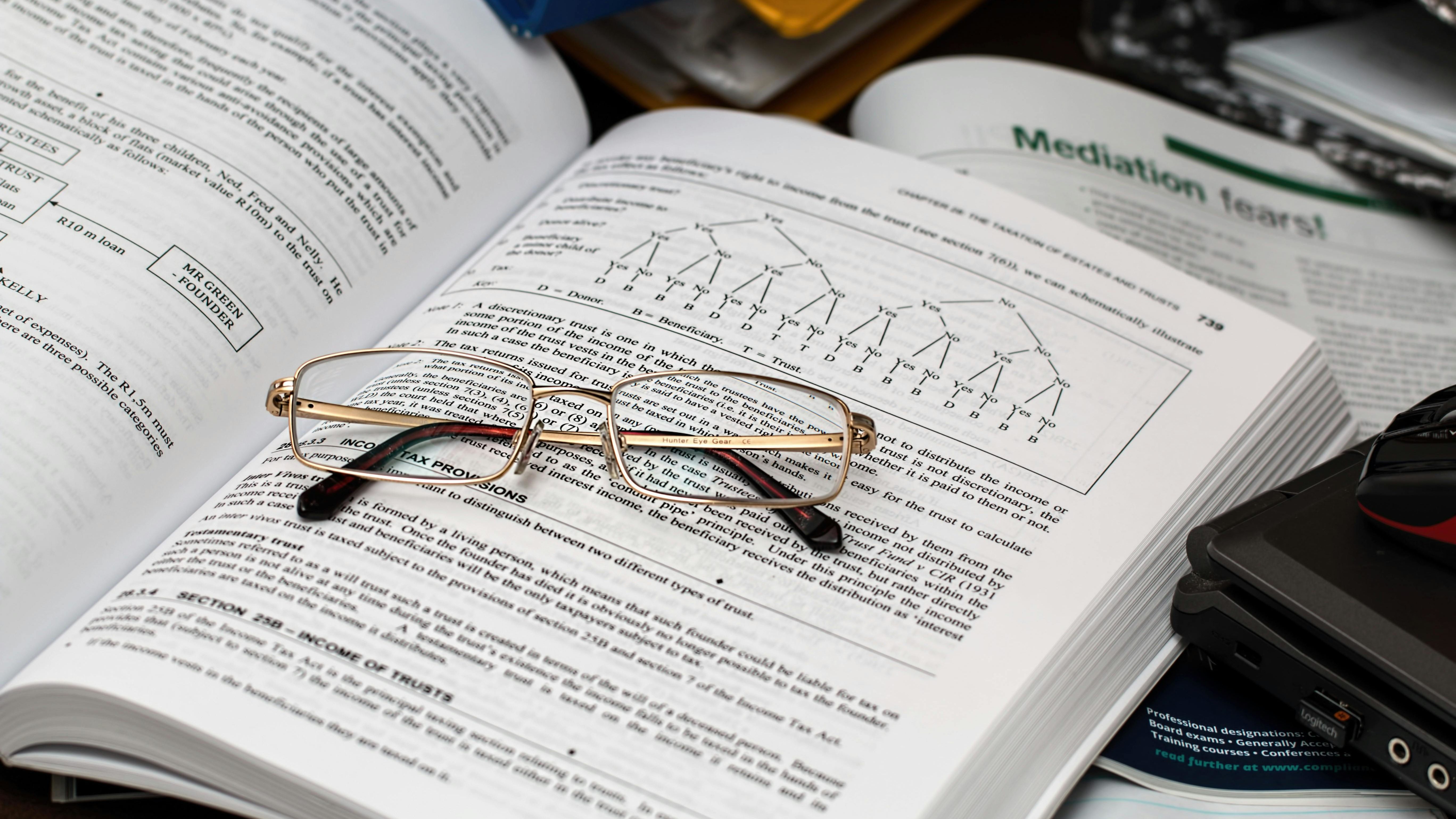
Opinião: Cientistas estão se preocupando mais com um número do que com impacto de suas descobertas
Leia artigo do químico Brenno A. D. Neto, professor da UnB
Opinião

Opinião: TCE persegue dinheiro público aplicado pelo terceiro setor
Em decisão inédita, corte paralisa contrato de OS da saúde com empresa; leia artigo do conselheiro Dimas Ramalho
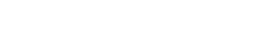
Todas as Seções:
Batatais
Cultura e Comportamento
Economia
Gente
Informe Publicitário
Nacional
Opinião
Região
Saúde
Turismo e Eventos
Batatais 24h nas redes:





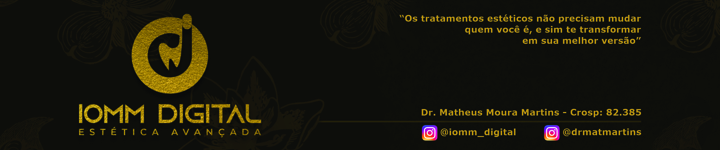
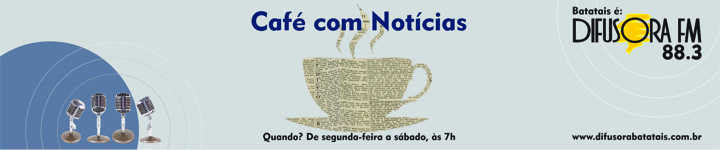



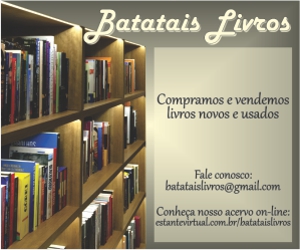

 (16) 99154-4411
(16) 99154-4411